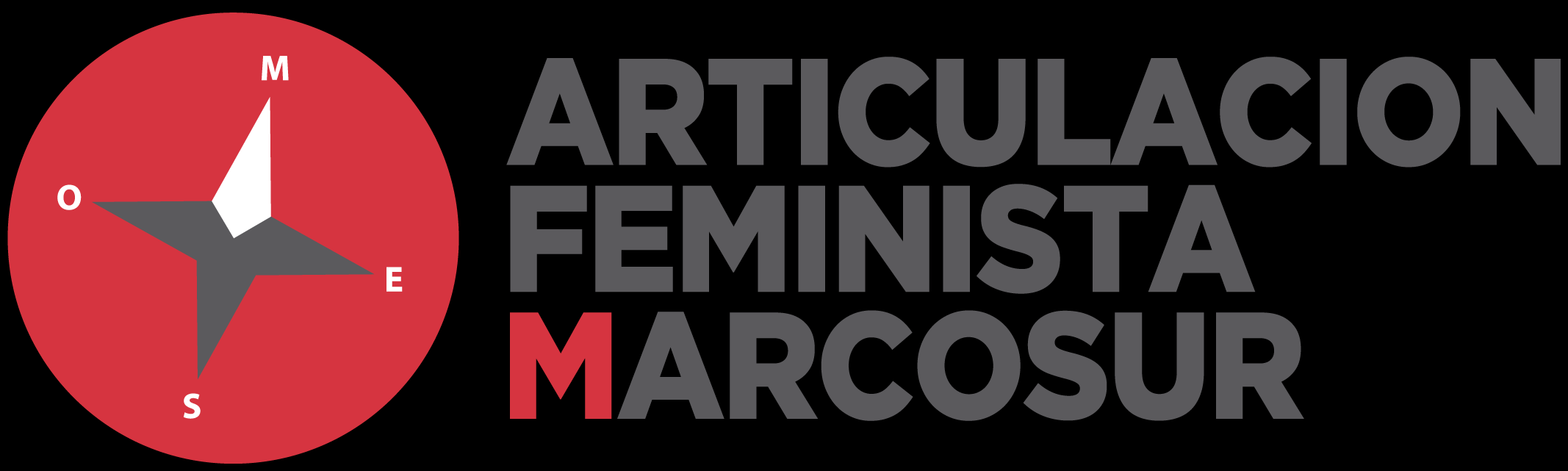Entrevista com Graciliana Selestino Wakanã (por Carmen Silva e Paula de Andrade/Sos Corpo. Em outubro, durante os Diálogos Interculturais sobre o Bem Viver no Brasil, entrevistamos Graciliana Selestino Wakanã, uma das referências da trajetória do povo Xucuru Kariri, do município de Palmeira dos Índios, no Estado de Alagoas.
Os Diálogos nasceram do desejo de trazer à tona as convergências e diferenças entre os modos de pensar e de viver das mulheres indígenas e das não indígenas no Brasil.
O propósito era perceber o que nos unia e aproximava, e o que era diferente e precisava ser respeitado e dialogado, em meio a reflexões que nos ajudassem a ponderar sobre o que poderíamos fazer juntas, sabendo-se que, separadas, já fazemos muitas coisas.
Que mundo queremos para viver? Como pensamos que pode ser feita sua transformação? Como desejamos a relação entre mulheres, entre mulheres e homens, entre seres humanos e natureza, as relações nas comunidades e no Estado etc. Participaram 16 indígenas: algumas “cacicas”, outras vice-“cacicas”, integrantes de diversas organizações, além de várias que se destacaram na luta pela regularização de territórios indígenas. Entre todas, lá estava Graciliana, hoje com 37 anos, que já integra o Comitê Intertribal de Mulheres Indígenas/Nordeste (Coimi/NE) e, em meio aos Diálogos Interculturais, refletiu sobre a participação política das mulheres indígenas, os conflitos e os desafios que enfrentam nas relações dentro e fora da aldeia.
Gostaríamos que você falasse sobre como vê a situação das mulheres indígenas.
Graciliana – As mulheres indígenas continuam sendo muito vulneráveis e submissas, precisando muito de apoio. Apoio no sentido de orientação mesmo, está entendendo? De pessoas que cheguem lá, e por isso que eu vejo que o potencial maior está em nós mesmas. Não é desfazendo de vocês, não indígenas, mas é que a gente que convive lá que consegue filtrar formas estratégicas de começar a discutir e empoderar esse povão. Esse povão, digo, as mulheres. Então as mulheres indígenas continuam sendo as que mais estão sendo empurradas para o empobrecimento, porque são as que mais produzem. Por falta de conhecimento, elas terminam se submetendo à violência de todos os tipos: psicológica – que essa é a pior –, moral e sexual. Tem muita situação nesse sentido e elas estão piores do que as não indígenas. Sabe por quê? Porque as não indígenas pelo menos estão, principalmente as urbanas, com mais acesso à informação, e nós não temos muito acesso à informação. Tanto é que, entre as mulheres indígenas, a gravidez na adolescência é muito grande. Então, a partir do momento em que você começa a parir, principalmente na Região Nordeste, tem obrigação de estar dentro de casa, cuidando dos seus filhos.
Os homens vivem saindo da aldeia, até para lazer mesmo, futebol, para o trabalho… E aí eles começam a ter uma outra vida, trazendo mazelas, inclusive doenças sexualmente transmissíveis, para dentro das aldeias. Então, olhando por esse aspecto, as mulheres estão mais vulneráveis, precisando de políticas públicas mais efetivas, de ação mais contínua. E que o Estado brasileiro, por meio de suas ações, veja essa situação das mulheres indígenas, porque nós somos as que mais têm carências dentro das comunidades indígenas e, muitas vezes, esse olhar não é visto pelos caciques e pelos líderes que estão à frente do seu povo, porque eles acham isso normal.
Normalmente, eles não veem e é essa a diferença da mulher indígena, quando começa a atuar nos movimentos como liderança. Ela começa a ver o todo, inclusive a questão do homem e da mulher, por isso que se chama “gênero”. Nós estamos preocupadas com as questões de gênero. Não estamos só preocupadas com a questão da mulher, mas sempre com o foco principal do empoderamento dessas mulheres, e nós não vamos salvar ninguém. Olhando pela concepção natural da própria natureza, não vamos salvar ninguém, mas vamos ser, sim, agentes transformadoras de uma vida melhor para qualquer ser humano.
Você está dizendo isso em relação à ideia do ‘bem viver’, que conversamos durante os Diálogos Interculturais? Como vê essa proposta de ‘bem viver’?
Graciliana – Vejo como uma proposta que traz muitas reflexões. Reflexões no sentido de a gente começar a oficializar e socializar isso entre os movimentos, porque esse ‘bem viver’, na realidade, já se vive em muitas comunidades indígenas. Em muitas comunidades indígenas porque – por exemplo, o homem, e eu até compreendo entre aspas, o “homem” – não compreendo aquele homem sacana, machista, está entendendo? Existem os homens bons e existem os machistas, os opressores das mulheres… Não vou dizer que são todos os líderes, porque alguns homens índios não consente em trazer suas mulheres das aldeias, porque não querem colocá-las em muitas situações de mazelas que a própria cidade contribui. Eu já escutei isso de muitos líderes. Mas também existem aqueles homens que vêm para cá [para as cidades], se apropriam de muitas situações e terminam levando a mazela para as suas mulheres dentro da aldeia. Isso existe, aqueles homens que não têm cuidado, violentos, que se apropriam de muitas situações para transformar uma comunidade doente, vamos dizer assim.
Então essa é uma concepção de vida que foi introduzida pelo mundo moderno, pela destruição da natureza… Porque, vou lhe dizer com toda a sinceridade: se o meu povo ainda continuasse dentro das matas, teria tempo para dormir, para olhar as estrelas. Ontem saí à noite para tentar ver uma estrela e não consegui, entendeu? Eu teria, nós teríamos ‘bem viver’, porque sempre vivemos a vida com qualidade, mas isso foi tirado do nosso povo. Isso precisa ser repensado e fortalecido, para que a gente possa realmente ter uma vida melhor, uma vida de qualidade, porque, a partir do momento em que a gente tiver os nossos territórios garantidos, a gente automaticamente vai estar contribuindo para o oxigênio de toda a humanidade.
Veja só: os povos indígenas vão saber trabalhar isso com sustentabilidade. É igual, por exemplo, a essas penas aqui. O povo pensa que são de outro povo. Não! Essas penas aqui são do povo de lá. Aliás, quem confeccionou essa minha tiara foi o meu primo e era companheiro meu, o Davi, porque são penas que nós fizemos uma relação do ‘bem viver’ com o pessoal do Ibama e o pessoal da usina lá, dos usineiros de Alagoas. Toda época, todo mundo sabe, até os pássaros revestem sua roupa.
Então a gente pega essas plumas e eles recolhem, e a gente confecciona o artesanato. A gente trabalha essa sustentabilidade de acordo com o tempo que a natureza nos fornece.
Os povos indígenas do Nordeste, mesmo ainda sem o território, que a gente ainda não tem em mãos… Dentro das nossas aldeias, temos a relação do ‘bem viver’ com o viver diferenciado que a colonização implantou. Temos lá um lugar preservado da mata da gente, aonde vamos, quinzenal ou mensalmente, praticar os nossos ritos sagrados. Temos isso no Nordeste. Fazemos essa relação com a nossa vida, na minha casa. Eu tenho a minha casa de alvenaria e, de quinze em quinze dias, vou para dentro do mato, onde tenho a minha maloca, igual à dos meus antepassados, durmo no chão, em cima de vara. Isso é ter uma relação. Eu sei estar de salto alto, vamos dizer assim, mas também sei colocar os meus pés no chão quando é necessário. É muito bom sentir a vibração e o fortalecimento que a terra nos traz. E é isso que a gente quer transmitir para a sociedade, que ainda não entende o quanto é bom zelar e respeitar o tempo e o espaço de cada um. Todos nós temos esse espaço.
Conte um pouco da sua trajetória na sua aldeia.
Graciliana – Eu iniciei, na realidade, muito jovem. Estava no início de preparação da vida, porque é essa a vida de nosso povo. Quando a gente começa a entender, como dizem os mais velhos, “a se entender de gente”, eles começam a ensinar vários princípios de vida e de sobrevivência para o nosso povo, em todos os aspectos. E começam também a observar alguns dons, que cada um de nós tem, dentro da nossa convivência coletiva, enquanto povo indígena. Fui sempre uma criança muito observadora e venho de uma geração de liderança, de uma família tradicional, vamos dizer assim, porque meu tataravô foi líder tradicional, cacique tribal. Meu avô foi líder tribal também, Cacique Velho Alfredo Selestino. E meu pai, atualmente, após a passagem do meu saudoso avô, assumiu essa responsabilidade, de ser cacique e viver em busca de melhoria para o povo indígena.
Na minha casa, fui sempre criada dessa forma, aquele povo do Nordeste, aqueles povos que trabalhavam interligados, e lá era o centro de reuniões, tanto regional, como nacional. Palmeira dos Índios, lá na Aldeia da Fazenda Canto, onde eu nasci e me criei até os 19 anos de idade, era o lugar que concentrava os líderes, os caciques daquela época. Só existiam homens. De mulheres do
Nordeste, tínhamos duas figuras só, entre mais de 20 pessoas. Era a finada e saudosa Maria Berto, que fazia parte do povo Geripankó, município de Pariconha, Alagoas, e também a finada Quitéria, do povo Pankararu. Do meu povo, tínhamos a Quitéria Selestino, que era uma prima minha, filha dopajé. Só que a gente sempre foi criada nessa geração de submissão, principalmente na Região
Nordeste. A gente não podia nem passar por aquelas pessoas que estavam lá se reunindo, mas eu ficava escondida detrás da porta, escutando. E, a partir dali, foi uma das escolas que eu tive, com 13 anos de idade. Meu pai sempre foi muito perseguido. A gente que vive na luta tem muitas pessoas contrárias ao próprio poder – e elas perseguem de várias formas. Na década de 1980, tivemos um chefe de posto da Funai que não gostava muito da forma como o meu pai liderava e coordenava o povo indígena.
Teve uma época que ele perseguiu e tentou até prender o meu pai. Chegaram para prender meu pai e eu não deixei os policiais militares entrarem. Foi a partir daí que o meu pai percebeu que eu tinha uma certa possibilidade de exercer algo que viesse a beneficiar a defesa do povo indígena. E, até então, ele não tinha essa visão de fortalecer e empoderar as mulheres. Foi quando chegou uma carta do Conselho Estadual da Mulher, que ele tinha que apresentar três nomes. Aí ele apresentou os nomes da finada Quitéria, da Maria Berto e o meu. Mas quem definia a lista tríplice para exercer o cargo de Conselheira Estadual da Mulher, representando a mulher indígena, era o Governador do Estado. E eu fui uma das, diria assim, agraciadas com essa missão. Porque, na realidade, trabalhar com as questões relativas à mulher é uma missão.
Foi um choque cultural para mim, porque saí praticamente da aldeia para dentro de um movimento já com uma responsabilidade muito grande, jovem, com 14 anos de idade, e, de lá para cá, aprendi muito com as mulheres feministas. A partir daí, comecei, após dois anos, tive de começar a “bater forte”, mesmo com meu pai. Muitas decisões… Até então, eu era assim, eu representava. Tinha essa missão de representar as mulheres, mas escutava muito meu pai, entendeu? Só fazia o que ele dizia e assim eu fui. Teve muitas pessoas que, inclusive até hoje eu trago isso, não gostam da forma como o meu pai liderava e me veem de uma forma igual ao Manoel Selestino, entendeu? Naquela época eu era muito jovem. Estava no princípio. Comecei a perceber que, na realidade, muitas das coisas que ele colocava não eram bem o que eu gostaria de fazer. Eu não tinha uma personalidade própria… Percebi que tinha de ter a minha própria defesa, o meu próprio ponto de vista, e um deles foi começar a entrar em choque com o meu pai. Então, tive de romper com ele e morar fora da aldeia. Na época, um tio me apoiou fora, o meu tio Francisco que está aí. Fiquei um período fora do meu povo, digo, do meu habitat, entendeu? Mas sempre ia à aldeia. Depois tive de voltar para a aldeia, porque você sabe que família é família. Há os costumes tradicionais também. Quando cheguei [de volta], já exercia completamente livre. Exercia livremente. O meu pai começou a me respeitar e as minhas decisões. Ele já não batia de frente comigo. Muitas das decisões que ele tomava na comunidade, eu já não concordava. Eu já até o orientava, para que a gente pudesse não ter muitos conflitos… Hoje, dentro do meu povo, graças a Deus, tenho um respeito muito grandeMeu pai está numa idade velha, eu tenho muitas coisas boas do meu pai. Da liderança dele tenho muitas coisas boas, e assim sigo esse rastro.
Hoje você exerce a liderança na aldeia?
Graciliana – Eu não gosto muito dessa palavra “liderança”… Porque vejo assim, não só no meu povo, mas em muitos povos: eles se apegam a essa palavra para serem ditadores, e ser líder, para mim, não é isso. Tenho até hoje esse bloqueio, esse receio de aceitar que sou uma liderança. Não sou uma liderança, sou uma indígena. Uma indígena que tem uma responsabilidade, uma missão com meu povo. Trabalhar o melhor que eu puder, especialmente para as mulheres, porque todas as mulheres indígenas, nós somos figuras importantíssimas de defesa e de conquista do nosso povo.
Fale um pouco sobre a posição das mulheres indígenas, olhando para essa atuação dentro do povo.
Graciliana – Após a minha conquista de liberdade, né? (risos), a gente conseguiu avançar muito dentro do nosso povo indígena. Porque não só Quitéria era do meu povo, participava do mesmo lã do qual eu venho, mas também a Maninha Xucuru, que também é do mesmo povo indígena, inclusive era minha prima. Na época, quando iniciei, Maninha tinha iniciado também como liderança. Foi quando foi criada a Articulação dos Povos Indígenas do Leste/Nordeste. Estive em uma das reuniões. No Primeiro Encontro das Nações Indígenas que o Conselho Estadual da Mulher puxou, coloquei Maninha para ser uma das palestrantes. Ela trabalhou sempre em defesa do povo indígena, mas o seu marco principal era a questão territorial. Nós já tínhamos três mulheres lideranças, mas, naquela época, não tínhamos maturidade. Maturidade de nos fortalecer como mulheres e, cada vez mais, empoderar outras mulheres, inclusive Xucuru Kariri. Mas, indiretamente, cada uma começou a fazer o seu papel. Maninha fazia pela Articulação dos Povos Indígenas do Leste/Nordeste, tanto é que foi conduzida, anos e anos, pela Maninha, que foi quando realmente existia uma Apoinme de atuação no Nordeste. Ela só trabalhou muito com os homens. Chicão era um dos parceiros dela na luta e tinha Girleno também. Ela trabalhava nessa linha como um todo e eu trabalhava com a questão específica de gênero. Mas a gente nunca teve essa maturidade de se socializar. Quitéria parou um pouco com a militância e foi exercer a sua profissionalização na área de saúde, mas, mesmo assim, era uma pessoa muito respeitada na comunidade indígena e pelos índios mesmo.
O próprio cacique, depois dessa ruptura que eu tive com ele, começou a dizer que as mulheres eram importantes, que a gente tinha de fazer o diferencial, mesmo vendo com um olhar diferenciado… Foi quando começamos a desbravar outras mulheres. Eu tenho esse marco. Digo que eu tenho porque fui uma das pessoas que viu. Quem inicia sofre mais, então eu aprendi com as mulheres feministas que o olhar era específico para as mulheres.
Como começou sua relação com as mulheres feministas? Foi no Conselho da Mulher?
Graciliana – Foi no Conselho Estadual da Mulher. Depois de oito anos no Conselho Estadual da Mulher foi que “caiu a ficha completa” em mim, mesmo assim, indiretamente, levando as mulheres para os Encontros Estaduais, colocando-as nas Conferências Estaduais. Foi dessa forma, sem entender bem, mas eu estava lá … Porque eu tinha mulheres feministas me apoiando nesse sentidodireto. Nós começamos a fazer esse trabalho de formiguinha e eu sempre tive o apoio dessas não indígenas. Eu sempre valorizo o trabalho. As pessoas dizem que os não índios não prestam.
Vocês também trazem coisas boas para a gente, né? Mas é importante sempre lembrar de ter paciência com a gente. Tudo demora um tempo. Depois a gente realizou encontros de mulheres, capacitações de mulheres, não só no Estado de Alagoas. Eu entrei em 1996 e, em 2000, depois de quatro anos, nós, as mulheres indígenas Xukuru Kariri, criamos a primeira Organização de Mulheres Indígenas no Nordeste, que é o Comitê Intertribal de Mulheres Indígenas.
Como foi o processo de organização das mulheres indígenas?
Graciliana – O Comitê foi criado por 21 mulheres Xukuru Kariri. Eu não sei se isso é bom ou ruim, nunca pensei em mim, nunca pensei só no meu povo. Penso no todo. No meu povo em um contexto geral. Claro que a gente erra muito – e como erra! Criamos o Comitê Intertribal de Mulheres Indígenas no Nordeste, e isso já foi uma parte estratégica. A missão do Comitê era o empoderamento das mulheres indígenas, o trabalho pelo fortalecimento da identidade indígena e a revitalização por meio das nossas próprias potencialidades para nossa própria sustentabilidade. Geração de renda era a principal missão do Coimi. Mas o Coimi não ia só atuar em Alagoas. Ia atuar em qualquer lugar da Federação, está lá no Estatuto, mas especialmente na Região Nordeste.
A partir de 2000, começamos e puxamos um primeiro encontro entre Alagoas e Sergipe, no qual colocamos mais da metade de mulheres das nações indígenas desses estados, e depois começamos e fizemos um documento, nós mesmas, e começamos a ter e a buscar espaço. Após isso, realizamos o Primeiro Encontro de Mulheres Indígenas do Nordeste, em Maceió. Foi histórico, porque foi um dos primeiros encontros em que levamos todas as mulheres, a maioria das mulheres de vários povos, de sete Estados do Nordeste, para Maceió. Foi em 2002. Reunimosmais de 200 mulheres. Levamos também representação dos líderes tradicionais – esse sempre foi um dos nossos papéis. Enquanto a gente não conquista muito, a gente vai trazer os caras que nos veem como ameaça, para eles verem, conhecerem um pouco, valorizarem o nosso trabalho, e nos fortalecer.
Conseguimos, depois de 2000 e 2004, realizar, em toda a Região Nordeste, o primeiro encontro de capacitações na área de associativismo e gênero, e potencialidades produtivas, que é um trabalho que está na mesa da AMB.
Fizemos uma cartilhinha e estivemos em vários locais do Nordeste realizando esse trabalho. Depois fluiu melhor. Dentro de muitas aldeias surgiram organizações de mulheres – esse era o nosso foco, nunca quisermos ser uma única e nem exclusiva organização indígena. Sempre pensamos para cada uma assumir as responsabilidades nas bases. Então, a partir do Coimi, surgiram outras associações comunitárias. Hoje, temos mais de trinta. São organizações de mulheres diretamente dirigidas por mulheres e para mulheres. Em 2004, a Apoinme, depois de anos (surgiu na década de 1980), começou a assumir também essa questão, a questão de gênero.
Mesmo sabendo que não estávamos diretamente, indiretamente começamos a influenciar. Porque, naquela época, tínhamos rachas muito fortes, porque eu sempre questionava a situação da Apoinme. Não entendia e questionava mesmo. E se existiam esses choques, nós não tínhamos maturidade para dizer: “Olha, estamos buscando o bem para todos. Nossas ações são nessa direção. Mas você exerce esse papel e nós vamos exercer esse papel, e quando lá na frente a gente se cruzar…”. É isso que carece no movimento indígena como um todo, especialmente no Brasil.
E atualmente, como está?
Graciliana – Nós, mulheres indígenas Xukuru Kariri, estamos numa nova proposta de puxar uma assembleia, que contemple vários povos de outras regiões. Se quiserem assumir e estar junto conosco, com uma nova reformulação, numa proposta de trabalharmos junto o Coimi, está pronto. Vamos colocar isso para o movimento como um todo. Vamos chamar as organizações das quais diretamente tivemos essa influência de estar conosco nesse apoio, que elas se organizem, e vamos também chamar, como um todo, outras, para que a gente possa estar nessa socialização desse bem comum, que é o avanço das conquistas do feminismo dentro das comunidades indígenas.
Fuente: SOS Corpo