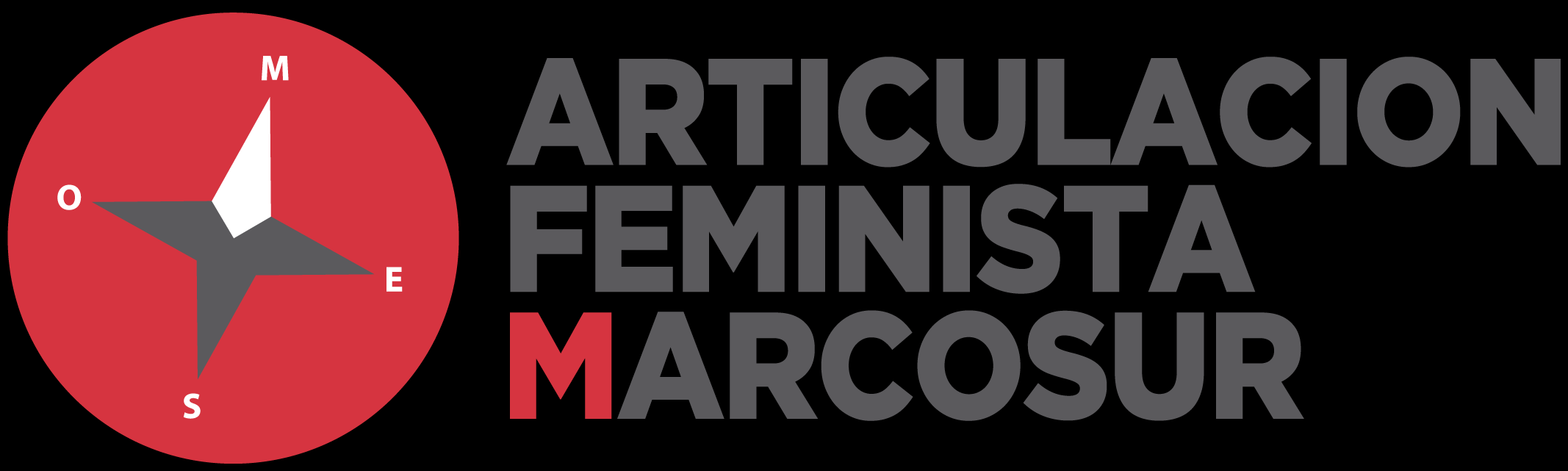Se querem também ser mães, as mulheres querem ser reconhecidas por outras coisas mais.
Por: Carla Gisele Batista*. Originalmente publicado aqui.
Antes de qualquer coisa, mães. Junto a esta afirmativa cabe uma sorte de negativas, com as quais ser mãe passa a ser uma obrigação. A maternidade como um direito, uma ausência. Nada de atendimento humanizado durante a gestação e o parto, por exemplo. Foi o que ouvimos na última semana. A violência obstétrica, reconhecida como qualquer tipo de violência relacionada à gravidez, seja ela física, psicológica, verbal e/ou simbólica, foi admitida. Para o atual governo, misógino e anti-direitos, é mais uma das violências a ser naturalizada. Consentimento dado, esta é a face da atual gestão: pela violência, tudo! qualquer violência, pode!
A contribuição para MULHERES EM MOVIMENTO, neste período de maio em que se comemora o dia das mães, vem de uma doutoranda em Direito pela Universidade de Victoria, no Canadá. Tamara A. Gonçalves, que é mãe de uma garota e está esperando o segundo filho, é advogada pela PUC/SP e mestra em Direitos Humanos pela USP. Integra o CLADEM/Brasil.
Leia, comente, compartilhe!
Ah, a maternidade!
Tamara Amoroso Gonçalves
Em sociedades patriarcais como a brasileira, é comum que nós mulheres, sejamos em grande parte socialmente definidas como mães. Ainda que tenhamos uma carreira profissional, se tivermos filhos/as seremos antes de tudo, mães. Se por um lado é normal congregar diversas identidades em nós (somos filhas, irmãs, primas, amigas, profissionais…) nenhuma outra identidade se enraíza tão profundamente quanto esta da maternidade. Nada similar ocorre quando um homem se torna pai. Sua identidade primária não se transmuta automaticamente e ele segue sendo primordialmente um profissional. Na verdade, em muitos casos essa identidade profissional se reforça ainda mais, com a incorporação oficial do papel de “provedor”. Não raro, inclusive, homens recebem promoções e aumento de salários quando se tornam pais. Afinal, agora têm de garantir o sustento das crianças… O mesmo não ocorre com as mulheres.
Quando têm filhos, mulheres encontram dificuldade para retornar ao mercado de trabalho. E quando o fazem, raramente são promovidas. Ao contrário, acabam “empacadas” em posições subalternas. Além de carregarem no corpo as marcas de um dos trabalhos mais importantes para a sobrevivência da espécie humana – o trabalho reprodutivo – elas ainda arcam pessoalmente com boa parte dos custos relacionados a esse processo. Custos para as suas vidas pessoais e profissionais. Curioso é notar que embora ter um filho seja um processo que envolve em geral duas pessoas, apenas uma, a mulher, tem de lidar com questões do tipo: “como conciliar carreira e filhos?”.
Em sociedades capitalistas como a nossa, o trabalho reprodutivo (gerar, parir e criar, educar filhos) não é reconhecido como trabalho. Passa despercebido, disfarçado de “amor” e “cuidados” que “naturalmente” apenas as mulheres estão aptas a realizar. Ao capitalismo patriarcal, une-se aqui o discurso religioso da “igualdade na diferença” que marca os países católicos da região, segundo o qual homens e mulheres “são iguais mas diferentes”. A diferença central é justamente a capacidade de gerar a vida e cuidar dela. Ao naturalizar as diferenças e a aptidão para o cuidado, nossa sociedade sobrecarrega as mulheres com esse trabalho, simultaneamente limitando sua capacidade de atuação nos espaços públicos e profissionais. E ainda responsabiliza a própria mulher por isso, ao oferecer-lhe menos opções de acesso e crescimento profissional simplesmente por ser mãe. Mas é importante que se diga: nenhuma mulher nasce sabendo embalar bebês ou cortar unhas de recém-nascidos. São todos aprendizados sociais. Quando nasce uma criança, apenas a amamentação (se assim escolher a mãe) é a atividade que pode ser exclusivamente desempenhada por ela. Todas as demais podem e devem ser partilhadas.
Como somos as únicas a pagar o preço (em geral sozinhas) por essa função social, penso que vivemos em sociedades que glamourizam a maternidade mas raramente oferecem condições concretas para que as mães a vivam plenamente. A começar pela licença maternidade que nem mesmo cobre o período de aleitamento exclusivo recomendado pela OMS (6 meses), situação que tende a piorar com a flexibilização das leis trabalhistas e redução de direitos em curso no Brasil atual. E a isso se somam as instabilidades e o fechamento de portas no mercado de trabalho.
Discursivamente, nossas sociedades nos dizem que o que fazemos enquanto mães é uma das coisas mais importantes. E é, afinal, sem isso, deixaríamos de existir enquanto espécie. Mas na prática, somos alvo de todas as formas de discriminação e limitações sociais precisamente porque desempenhamos esse papel. As palavras têm poder, já nos ensinava Foucault. E o que o atual governo tem nos dito, repetidamente, é que não temos lugar nos espaços públicos. Que, sendo mães, temos de nos confinar nos ambientes domésticos e nos limitar às atividades de cuidado. Que não temos voz nos espaços públicos. E tais falas vêm sendo traduzidas em cortes concretos e em desmonte de políticas públicas, na nomeação de alguém que representa essa agenda conservadora e tradicional para liderar a pasta de direitos das mulheres no governo federal. Que aliás teve seu nome alterado para incorporar “família”, deixando bem claro sua filiação aos discursos conservadores e familistas.
Mas o movimento de mulheres, no mundo e no Brasil, já percorreu um longo trajeto. Estamos e vamos resistir a cada milímetro de retrocesso. Seguiremos juntas e em movimento para nos afirmarmos sujeitos múltiplos e complexos: seremos mães se e quando quisermos. Ainda que se mudem leis e políticas, nossos corpos são nossos e de mais ninguém. Mas também queremos ser muito mais que mães. Queremos compartilhamento das tarefas domésticas e de cuidado. Queremos oportunidades profissionais, queremos fazer parte da política. Queremos ser respeitadas em toda a nossa pluralidade e multiplicidade de mulheres negras, indígenas, brancas, lésbicas, trans.
______________
*Carla Gisele Batista é historiadora, pesquisadora, educadora e feminista desde a década de 1990. Graduou-se em Licenciatura em História pela Universidade Federal de Pernambuco (1992) e fez mestrado em Estudos Interdisciplinares Sobre Mulheres, Gênero e Feminismo pela Universidade Federal da Bahia (2012). Atuou profissionalmente na organização SOS Corpo Instituto Feminista para a Democracia (1993 a 2009), como assessora da Secretaria Estadual de Política para Mulheres do estado da Bahia (2013) e como instrutora do Conselho dos Direitos das Mulheres de Cachoeira do Sul/RS (2015). Como militante, integrou as coordenações do Fórum de Mulheres de Pernambuco, da Articulação de Mulheres Brasileiras e da Articulación Feminista Marcosur. Integrou também o Comitê Latino Americano e do Caribe de Defesa dos Direitos das Mulheres (Cladem/Brasil). Já publicou textos em veículos como Justificando, Correio da Bahia, O Povo (de Cachoeira do Sul).