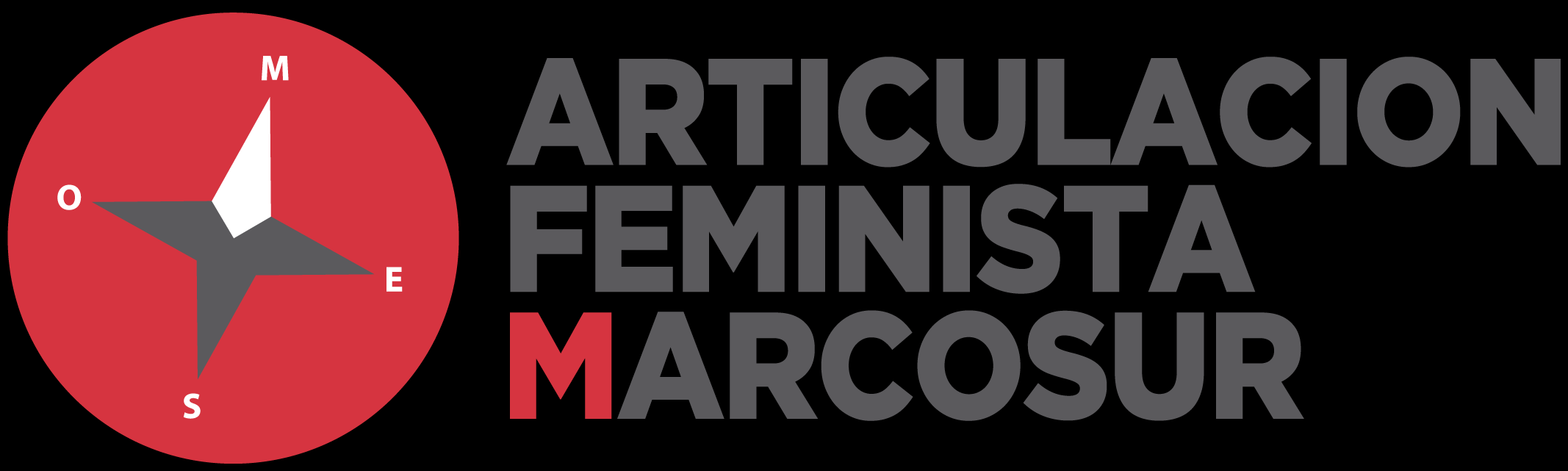Antropologias sobre mães e crianças com a Síndrome Congênita do Vírus Zika.
Por: Carla Gisele Batista*. Originalmente publicado aqui.
A contribuição para Mulheres em Movimento desta semana vem do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília (UNB), via projeto de pesquisa coordenado pela Professora Soraya Fleischer: “Zika e microcefalia: Um estudo antropológico sobre os impactos dos diagnósticos e prognósticos das malformações fetais no cotidiano de mulheres e suas famílias no estado de Pernambuco”.
Se em 2015 e 2016 o tema esteve em evidencia, hoje é como se tivesse entrado para a normalidade. Mas, como segue a vida de mães, cuidadoras/es e crianças com a Síndrome Congênita do Vírus Zika?
O projeto, que conta com o apoio do DAN, FINATEC, Pro-IC e do CNPq, vem acontecendo desde 2016, com visitas semestrais à capital pernambucana. Textos que surgem a partir dessas visitas registram histórias marcantes e intensas relatadas à equipe de antropólogos/as por jovens mulheres da Grande Recife. Eles podem ser acessados em: https://microhistorias.wixsite.com/microhistorias/about
“Meu filho foi quem me ensinou a falar”
Soraya Fleischer, antropóloga, professora da Universidade de Brasília
Thais Valim, antropóloga, mestranda na Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Adriana é uma das mães que conhecemos em nossa pesquisa atual no Recife/PE. Ela nos contou que a chegada de seu filho com a Síndrome Congênita do Vírus Zika lhe transformou. Antes, ela se percebia como uma mulher tímida e muito reservada. Mas, ela precisou “perder a vergonha para conquistar as coisas” por ele e para ele. Ela precisou aprender a se dirigir às atendentes dos balcões dos hospitais, a explicar às médicas os sintomas que notava no filho, a demandar na justiça um medicamento que a prefeitura tivesse prometido, a peitar um motorista que se indispusesse a levá-los no ônibus. Hoje, com quase três anos, a criança é percebida como esse grande mote para seu desabrochar como mãe, acompanhante, usuária dos serviços, cidadã de direitos.
Esse ganho em vocalidade parece ser comum às outras “mães de micro”, como decidiram se chamar essas mulheres que tiveram filhos, nos últimos três anos, com a Síndrome Congênita do Vírus Zika. Foram muitos os relatos de momentos em que tiveram que aprender a se colocar no mundo de modo claro, contundente, determinado. Mas com outros dois exemplos queremos matizar esse empoderamento, revelando como “falar” não é um processo simples, sobretudo quando aspectos de gênero, classe e escolaridade se interpõem. “Falar” é um aprendizado lento e processual, com idas e vindas, perdas e ganhos.
Silvia, mãe de uma criança da mesma idade, conseguiu, com outra mãe ou talvez diretamente da médica, o número de telefone dessa última. Pelo WhatsApp, tão frequentemente usado por elas, ela marcou uma consulta para o filho com essa neurologista. Tudo acertado pelo aplicativo, ela e a criança se dirigiram ao serviço no dia e horário marcados. Chegando lá, eles não constavam na agenda (em papel) daquele turno. Ela questionou a atendente, lembrou que tinha conversado com a médica por “whats” e que estava tudo combinado. A atendente resistiu, baseou-se apenas nas marcações que tinham sido feitas presencialmente ou por ligação telefônica. Silvia subiu o tom, levantou a voz, gritou e ofendeu a atendente e sua respectiva família. A médica foi acionada pela atendente e, por um lado, confirmou a consulta marcada diretamente pelo WhatsApp, mas, por outro lado, ficou do lado da atendente, que havia sido desrespeitada em seu posto de trabalho. Esse relato foi compartilhado por Silvia em tom de desabafo em um grupo terapêutico oferecido às “mães de micro” por uma das clínicas de reabilitação da cidade. A terapeuta, que naquele dia conduzia a sessão, acolheu o relato, mas lembrou que, embora as “mães devam mesmo falar, há um jeito certo de se falar”.
Neide, uma terceira mãe que conhecemos também no Recife, contou que, para conseguir consultas, exames e medicamentos, se tornou comum a oferta de mutirões de exames e participação em projetos de pesquisa. Para efetivar o escambo, Neide e a pequena filha de colo deveriam submeter seus sangues, salivas, tiquinhos de unha às provetas e microscópios dos cientistas. Mas ela foi descobrindo aos poucos que a troca não valia a pena: não recebia os resultados dos exames e as seringas machucavam muito a criança. Contou, por exemplo, que um exame de vista foi agendado e o jejum prévio da criança foi exigido. Conversando com outras mães, ela desconfiou dessa exigência e não foi no dia marcado. Depois, pelas mesmas mães, descobriu se tratar de uma pesquisa, que sangue havia sido retirado dos bebês, além da realização do exame oftalmológico. Neide nos mostrava como “falar”, perguntar e assuntar eram ferramentas importantes, não só para ter acesso a atendimentos e benefícios para a filha, mas para evitar relações desiguais diante de profissionais de saúde e pesquisadores. Nesse caso, ela se absteve de comparecer, ela optou por silenciar nesse caso para poupar a filha e explicou, “a bichinha fica sofrendo feito rato de laboratório”. Mas continuava a receber telefonemas de universidades e clínicas convidando para novos exames e mutirões de consultas. Seu aprendizado era saber quando falar, assentir e comparecer; quando calar, se proteger e evadir. Neide nos apresentava outras modalidades do “falar”.
Adriana, com quem iniciamos essa história, aprendeu a perder a vergonha, a perguntar, responder, discordar, pleitear acesso e direitos do filho. Como ela e tantas outras mães de micro repetiam, “Meu filho foi quem me ensinou a falar”. Silvia aprendia que, embora fosse fundamental falar, havia um “jeito” correto para isso. Palavras, volume, postura corporal, hierarquias a serem respeitadas. Por mais que essas “mães de micro” estivessem criando uma nova e potente forma de se comunicar diretamente nos balcões de atendimento, nos prédios da prefeitura e do Ministério Público, com os profissionais de saúde, as antigas regras da agenda, do telefone fixo, da fila ainda vigoravam. Neide aprendia que, embora fosse fundamental conseguir acesso aos serviços especializados para a filha, por vezes, era melhor não falar, não participar. Ouvir os relatos das outras mães, notar diferenças entre cientistas e clínicas, entender que tipo de convite chegava para sua filha eram todas habilidades a serem aprimoradas.
Ensinamentos vêm como portas-fechadas, broncas e limites; vêm também com convivência, circulação e observação. Vão e vem, avançam e voltam, a voz e o silêncio dessas mulheres é um aprendizado progressivo. Não se trata apenas de aprender a falar, mas também de perceber as sutilezas de como os outros ouvem aquela voz, trata-se de uma percepção refinada de dinâmicas complexas de reconhecimento que essas mulheres vêm aprendendo a interpretar para identificar o modo mais eficiente de demandar e lutar pelos direitos de seus filhos. Esses direitos precisam ser conquistados com pernas, olhos e bocas, que têm cor, trejeitos, marcas. Aprendiam a falar, aprendiam a como e com quem falar, aprendiam quando era mais estratégico passivamente observar, angariando ainda mais elementos nesse intenso processo de cidadanização.
______________
*Carla Gisele Batista é historiadora, pesquisadora, educadora e feminista desde a década de 1990. Graduou-se em Licenciatura em História pela Universidade Federal de Pernambuco (1992) e fez mestrado em Estudos Interdisciplinares Sobre Mulheres, Gênero e Feminismo pela Universidade Federal da Bahia (2012). Atuou profissionalmente na organização SOS Corpo Instituto Feminista para a Democracia (1993 a 2009), como assessora da Secretaria Estadual de Política para Mulheres do estado da Bahia (2013) e como instrutora do Conselho dos Direitos das Mulheres de Cachoeira do Sul/RS (2015). Como militante, integrou as coordenações do Fórum de Mulheres de Pernambuco, da Articulação de Mulheres Brasileiras e da Articulación Feminista Marcosur. Integrou também o Comitê Latino Americano e do Caribe de Defesa dos Direitos das Mulheres (Cladem/Brasil). Já publicou textos em veículos como Justificando, Correio da Bahia, O Povo (de Cachoeira do Sul).