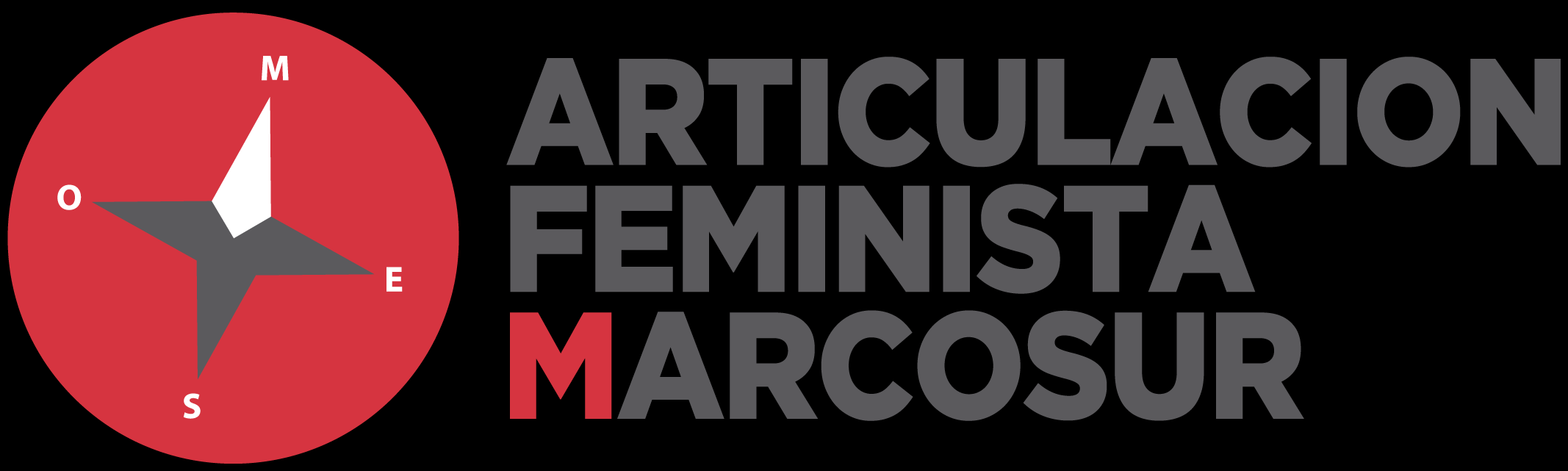Nunca tivemos um roteiro determinado para identificar aquelas que são ou não feministas. Assim como o feminismo é diverso, os meios de se contrapor a ele também podem ser.
Por: Carla Gisele Batista*. Originalmente publicado aqui.
Quando comecei a participar de atividades do movimento feminista usava-se, em tom de brincadeira, a afirmação “fulana é feminista de carteirinha!” para identificar as fundadoras dos finais dos anos 70, início dos 80, que já acumulavam reflexão, produção teórica e ativismo e costumam ser uma referência para todas nós. Foram muitas gargalhadas em torno a especulações sobre o caminho para chegar a este reconhecimento. Mas não, nunca tivemos, ou mesmo pensamos em ter, um roteiro determinado para identificar aquelas que são ou não feministas, mais ou menos umas que as outras, em um leque de amplitudes. O auto-reconhecimento sempre foi considerado. Nada, no entanto, que se aproximasse a um exame detalhado com aprovação e registro, como costumam ter advogados/as da Ordem, por exemplo.
O feminismo pode ter diferentes faces, identificadas a partir do campo de ideias e de atuação dos diversos grupos/movimentos existentes. Mas, mesmo dentro de cada um deles, existem divergências e conflitos. Há aquelas consideradas mais liberais, as anarquistas, as radicais, marxistas, etc. E, num mesmo grupo, lutas que podem ser identificadas em um ou outro campo. Assim como a vida é dinâmica, as delimitações nem sempre são fáceis de serem feitas. O consenso costuma formatar decisões e apontar estratégias a cada contexto. A horizontalidade e não hierarquização são horizontes permanentes. Algumas das lições aprendidas: nunca tome sozinha uma decisão se ela pode implicar todo o coletivo. Ainda mais se ela for em benefício próprio. O diálogo e o respeito às definições afirmadas em conjunto são fundamentais para a construção de um movimento.
Entendo que o feminismo está presente numa forma de ver o mundo, de construir pensamento e teoria a partir deste lugar, mas também de atuar para transformar a realidade, em conjunto com outros sujeitos do feminismo, que para mim, são apenas as mulheres, inclusive as autodeclaradas. Uma jeito de estar no mundo que precisa estar diferenciado de uma certa postura individualista que vai de encontro, inclusive, às críticas feitas pelo movimento ao sistema capitalista.
Em tempos de captura do feminismo pelo mercado, forma de diluir a ação das que atuam no sentido contra-hegemônico e com maior rebeldia; em tempos em que se amplia a autodenominação feminista ou de conhecedoras/es do que é o feminismo, marcar posição se torna ainda mais importante como forma de delimitação de um campo.
Isto é necessário porque o antifeminismo muitas vezes é também exercido por pessoas que se dizem feministas. Para mim, um exemplo é o da escritora Camille Paglia, uma pessoa que em nome do feminismo está o tempo todo empenhada em adjetivá-lo negativamente, como se fosse uma autoridade iluminada, acima das outras ativistas, a definir rumos legitimamente porque estaria inserida no que me parece abominar. Pequeno parêntesis: eu tenho um amigo que, sempre que nos encontramos, querendo demonstrar identidade comigo, fala que é fã do feminismo e que a Camille Paglia é a sua referência. Eu, fico “Hum!?!?! Tá!!!” Me dá uma preguiça enorme! Não que o feminismo esteja isento de críticas. Aliás, é uma das coisas que ele nos ensina e ao mesmo tempo faz com que sejamos permanentemente perscrutadas. Costumamos ser as mais agudas, e às vezes cruéis, críticas de nós mesmas. Mas, criticar é diferente de querer rebaixar publicamente.
Há alguns anos estive nas Jornadas de Debates Feministas, organizadas anualmente em julho pelo Cotidiano Mujer, uma organização de feministas uruguaias, com apoio da Universidade da República e a Prefeitura de Montevidéu. Assisti a uma apresentação da Red Temática de Género, daquele país, sobre antifeminismos em contextos progressistas. O que é bom lembrar, não é o nosso caso. A reflexão foi feita no período eleitoral, que ocorre novamente agora naquele país. Busco na memória e em algumas notas esparsas – e por isso pode haver algum equívoco – porque a classificação dos antifeminismos proposta me pareceu bastante interessante e penso que pode ser utilizada atemporalmente e em outros contextos, como ponto de partida. As interpretações e os exemplos são meus.
A primeira categoria era a do antifeminismo clássico, identificado como aquele que não reconhece a desigualdade entre os sexos/gêneros, privilegiando a questão de classe acima de todas as desigualdades. Nela estava situado, por exemplo, o debate de esquerda. É bom ressaltar que, para uma parte desta esquerda, persiste uma visão da luta feminista como exclusivamente liberal, expressa na luta pelos direitos humanos das mulheres, ainda que estejamos longe de alcançá-los. Há uma dificuldade, desinteresse talvez, em reconhecer até mesmo o feminismo que está no campo da esquerda radical, que também se contrapõe às elites financeiras e às classes dominantes. Às vezes me pergunto se é intencional esta necessidade de, ao se negar a ver, invisibilizar.
É essa esquerda que segue hierarquizando, porque lê a conjuntura de forma restrita à luta de classes, eclipsando outras lutas que circunscrevem às identitárias. Deve ser a mesma que disse do #EleNão, terem as mulheres atiçado a oposição conservadora, enquanto avaliamos que sem este movimento, o único que unificou e levou uma grande presença de pessoas às ruas no período pré-eleitoral, talvez não tivéssemos chegado ao segundo turno. O que significou, de alguma forma, algum acúmulo de forças.
O segundo modelo, denominado tradicional modificado, foi caracterizado pelo uso da linguagem inclusiva, o reconhecimento das diferenças, mas não das desigualdades que prejudicam as mulheres como consequência das relações de gênero/poder historicamente instituídas.
Dale O’Leare, uma das intelectuais que fundamenta o debate contrário à “ideologia de gênero” afirma que “teria querido unir-me a elas na batalha pela eliminação dos verdadeiros abusos, com o objetivo de tornar a vida melhor para as mulheres, mas a ideia das militantes feministas é de que uma mudança positiva consistia em deitar abaixo a família, promover a liberação sexual e defender o aborto a pedido. Não se pode permitir às feministas dissolver todas as famílias e destruir todos os casamentos apenas porque elas têm medo do casamento e da maternidade”**.
Quem sabe se tivéssemos nos detido a atuar pelo fim da violência contra as mulheres sem anunciar que os violadores e assassinos são, em grande maioria, homens da família ou próximos, que é necessário que as relações construídas no espaço doméstico sejam também fundadas em ideais de uma democracia ampliada, que relações igualitárias não se estabelecem a partir do controle do corpo e da sexualidade das mulheres, se não tivéssemos anunciado a divisão sexual do trabalho como forma de exploração que sustenta todas as formas de violências, essa senhora não seria uma militante dos movimentos feministas? O que estamos perdendo, não é mesmo?
O terceiro, bastante visível nas redes sociais, seria o reacionário e diluente. Caracterizado por ser uma reação virulenta ao feminismo. Para as uruguaias este era um discurso raro entre os/as candidatos/as. O que não é o caso do Brasil atual, quando o antifeminismo é exercido de forma declarada e legitimada, a partir do seu mandatário e apoiadores/as.
Para as pesquisadoras uruguaias, estes são os casos em que mulheres e homens se tornam comparáveis, em muitos casos a partir de declarações de que o que acontece com eles é pior, que eles sofrem mais do que elas. Justificam a violência machista, afirmando que os homens agem assim porque também foram socializados dentro dos mesmos marcadores de gênero que as mulheres. Relegam o histórico de poder patriarcal e que aqueles que se beneficiam de determinadas situações podem não estar dispostos a romperem com as condições que os sustentam. O Projeto de Lei Neymar da Penha, protocolado pelo deputado Carlos Jordy (PSL/RJ), além de oportunista e grotesco, é um bom exemplo. Há também outras formas mais sutis e traiçoeiras. Certos “desvios” dos, já diminutos, recursos para acolhimento de mulheres e meninas em situação de violência, para sensibilização de agressores, me parece ser um caso.
Há ainda uma quarta categoria, não me recordo a denominação, aonde entram aqueles/as que reconhecem as desigualdades de gênero, mas, ao invés de fazer uma leitura interseccional, buscam esfumar o seu reconhecimento hierarquizando diversas formas de desigualdades, caso de raça e etnia, orientação sexual, entre outras. Se manifesta na ausência de articulação teórica e política destes marcadores com gênero. Somam-se as desigualdades, e muitas vezes também as hierarquizam, sem articulá-las, sem reconhecer suas condições estruturantes.
Esses casos podem acontecer, inclusive, entre movimentos sociais que, ao invés de somarem forças no que almejam enfrentar em comum, se distanciam. Costumam surgir naqueles momentos em que, ao respeito às diferenças, ao empenho para a construção de alianças, se sobrepõem acusações, nem sempre devidamente fundamentadas, como forma de distanciamento e afirmação de identidade. Esta categoria não foi considerada, necessariamente, como antifeminista. Apresenta, no entanto, a necessidade de atenção para a luta feminista.
Não sei se caberia aqui uma outra categoria de antifeminismo, ou se ela já estaria abordada nas anteriores. Compartilho minhas dúvidas. O que dizer das situações em que, ao se apresentar como feminista, faz-se uso privado da construção de um movimento realizada com muitos esforços e negociações coletivos, em benefício próprio? O que dizer daquelas pessoas que “topam” arriscar o que não lhes pertence individualmente, o que é uma causa pública, em usufruto próprio, vislumbrando benefícios materiais? Uma categoria de vale tudo por interesses pessoais? Um exemplo é o de pessoas que admitem ser possível se colocar a serviço de alguém acusado de violência sexual e crime cibernético por exposição indevida de imagens, declarando de antemão a inocência do acusado em nome do feminismo. Um réu que está sendo apoiado por autoridades e pessoas que defendem explicitamente a violência contra as mulheres e que se posicionam contra as lutas defendidas historicamente por elas.
Assim como o feminismo é diverso, os meios de se contrapor a ele também podem ser. Nestas horas, mais que nunca, é importante demarcar: esse não é o nosso feminismo! Não em nosso nome!
_____________________
*Carla Gisele Batista é historiadora, pesquisadora, educadora e feminista desde a década de 1990. Graduou-se em Licenciatura em História pela Universidade Federal de Pernambuco (1992) e fez mestrado em Estudos Interdisciplinares Sobre Mulheres, Gênero e Feminismo pela Universidade Federal da Bahia (2012). Atuou profissionalmente na organização SOS Corpo Instituto Feminista para a Democracia (1993 a 2009), como assessora da Secretaria Estadual de Política para Mulheres do estado da Bahia (2013) e como instrutora do Conselho dos Direitos das Mulheres de Cachoeira do Sul/RS (2015). Como militante, integrou as coordenações do Fórum de Mulheres de Pernambuco, da Articulação de Mulheres Brasileiras e da Articulación Feminista Marcosur. Integrou também o Comitê Latino Americano e do Caribe de Defesa dos Direitos das Mulheres (Cladem/Brasil). Já publicou textos em veículos como Justificando, Correio da Bahia, O Povo (de Cachoeira do Sul).
**O’Leare. A agenda de gênero. Redefinindo a igualdade, pg1 https://s3.amazonaws.com/padrepauloricardo-files/uploads/ou1vyvqf7edairu6mgq7/agenda-de-genero.pdf, consultado em 12/06/2019.